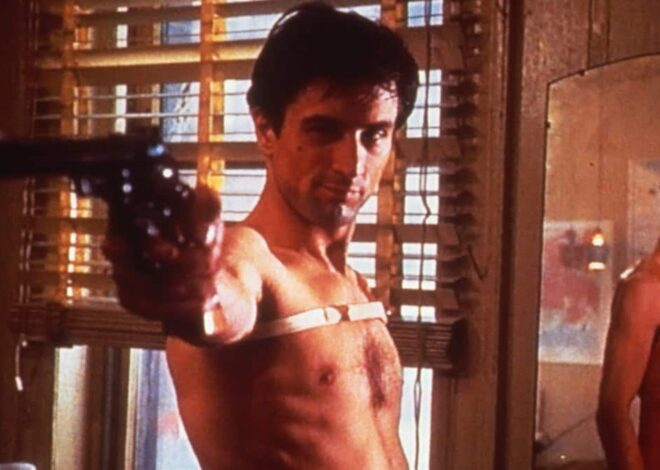[RESUMO] Ao fim deste 2023, a Folha relembra e homenageia algumas das principais personalidades que nos deixaram durante o ano.
De Rita Lee a Léa Garcia, passando por José Celso Martinez Corrêa e Murilo de Carvalho, por Danilo Miranda e Mãe Bernadete, por Glória Maria e Antônio Bispo dos Santos, por Roberto Dinamite e Walewska: foram imensas as perdas de personalidades do mundo cultural, acadêmico, esportivo e social neste 2023.
Nesta edição da Ilustríssima, algumas delas são relembradas, em breves depoimentos e significativas homenagens.
Nem todos os brasileiros e todas as brasileiras proeminentes que construíram um legado relevante para o país, para suas áreas de atuação ou para suas comunidades e que nos deixaram estão aqui nomeados.
Convidados pela Folha, jornalistas, colunistas, críticos, artistas e intelectuais escreveram sobre algumas dessas personagens reais e incomuns, que aprendemos a admirar e que permanecerão em nossa memória.
Estão aqui representadas, pelos nomes que se seguem, todas as ausências sentidas neste ciclo anual que se renova.
Roberto Dinamite
13.abr.1954 – 8.jan.2023
Juca Kfouri
Jornalista e colunista da Folha, é autor de “Confesso que Perdi”
Roberto Dinamite era mesmo explosivo em estado puro. Dentro de campo. Fora chegava a ser doce, sorriso tímido invariavelmente estampado em rosto plácido.
Contra o Botafogo, em 1976, marcou o que para muitos foi o gol mais bonito da história do Maracanã, ao dar mais que um chapéu no zagueiro, mas verdadeiro lençol, depois de matar no peito a bola que veio alta da direita —e antes de arrematar com voleio inesquecível.
Dinamite ainda explodiria o Corinthians quatro anos depois, ao fazer os cinco gols da goleada aplicada pelo Vasco assim que ele voltou de curta passagem pelo Barcelona.
Maior goleador da história do Campeonato Brasileiro (190 gols), do Campeonato Carioca (279 tentos), com 1.110 jogos pelo Cruzmaltino como ninguém mais, maior artilheiro vascaíno contra os três rivais do Rio, Carlos Roberto de Oliveira ainda presidiu o clube de São Januário, onde também ninguém fez tantos gols como ele.
Eleito em 2008, e reeleito três anos depois, a vida de cartola esteve longe de se comparar à de chuteiras.
Tivesse feito como dirigente o mesmo sucesso que fez como jogador, o Vasco não seria o Vasco, seria o Real Madrid.
Ninguém com a Cruz de Malta no peito, antes e durante a sua passagem pelo clube, foi tão idolatrado.
Dificilmente alguém será depois dele e eternamente.
Roberto Dinamite saiu cedo das luzes de ribalta, aos 68, vítima de câncer. A via que passa em frente ao estádio de São Januário se chama, docemente, avenida Roberto Dinamite.
Glória Maria
15.ago.1949 – 2.fev.2023
Djamila Ribeiro
Mestre em filosofia política pela Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), colunista da Folha e coordenadora da coleção de livros Feminismos Plurais
Uma das passagens mais marcantes do ano foi de Glória Maria, referência no jornalismo e na vida. Muito já foi dito sobre seu legado como uma mulher negra retinta na televisão, altiva, brilhante e de cabelo crespo.
Se é que é possível medir o impacto de sua despedida, as homenagens póstumas são um bom caminho para tanto. Assim que o país soube de sua passagem, não se falou em outra coisa. Audiências recordes no Jornal Nacional informaram o desejo do público de festejá-la. Instituições, autoridades, artistas, colegas jornalistas se uniram em uma estrondosa salva de aplausos.
Glória foi celebrada em veículos de comunicação do país e estrangeiros, como é o caso do jornal The New York Times, que se referiu a ela como “aquela que quebrou barreiras na televisão brasileira”.
Cidadã do mundo, viajou para mais de 160 países, mostrando inúmeras realidades, como também entrevistou ícones do século 20. Um dos seus principais legados está nas herdeiras da profissão, mulheres negras na comunicação que se inspiram em seus passos.
Seu nome também tem sido imortalizado nas ruas. Em São Paulo, no bairro do Campo Limpo, foi inaugurado o Centro de Educação Infantil Glória Maria, para atender 200 crianças de até 3 anos. No Rio de Janeiro, em Santa Teresa, está o parque Glória Maria, com inúmeras atividades culturais. E muitas outras homenagens estão por vir.
Já no último mês, vimos com emoção suas duas filhas orgulhosas no palco do Troféu Raça Negra, cuja edição era especialmente dedicada à mãe, recebendo as devidas homenagens que coroaram um ano de muita gratidão à pioneira jornalista brasileira, que está para sempre em um lugar de destaque na história do país.
Canisso
9.dez.1965 – 13.mar.2023
Thales de Menezes
Jornalista
É notório no mundo do rock que algumas bandas precisam ter aquele cara que “dá a liga”. É o integrante que segura as pontas, que, além de sua contribuição musical, consegue também um pouco de harmonia em ambientes que costumam ser muito inflamáveis, repletos de egos inflados.
Como Ringo Starr nos Beatles. E, sim, como Canisso nos Raimundos.
Sua presença não era conciliadora apenas no dia a dia, algo que, afinal, quem está de fora não conhece muito bem. Era, contudo, o porto seguro da banda também no palco.
Canisso era um baixista de mão cheia, bem mais talentoso que muitos outros do instrumento no rock brasileiro que sabiam fazer marketing pessoal. Rodolfo cantando e Digão na guitarra eram rebeldes além da conta. Rebeldes no comportamento e também na hora de cantar e tocar. Muito empenho e vontade, mas pouco técnica segura.
Canisso foi fundamental no som dos Raimundos, o que não deixava o show virar bagunça demais. No auge dos Raimundos, e eles foram gigantes de verdade na virada dos anos 1990 para este século, Canisso era sempre o mais “entrevistável”.
Sem a porralouquice de Rodolfo, sem o entusiasmo falastrão de Digão, sem o jeito tranquilo demais de Fred. Era o cara que entendia de rock, um papo ótimo, alguém que tinha consciência de seu talento e também de que o mundo do pop é uma gangorra que poderia jogá-lo no ostracismo de uma hora para outra.
“Raimundos é ótimo enquanto durar”, disse em uma conversa. “Deixa de ser no instante seguinte ao fim da banda, é assim que funciona. Enquanto isso, a gente toca.”
Boris Fausto
8.dez.1930 – 18.abr.2023
Naief Haddad
Jornalista da Folha
Em novembro de 2021, escrevi sobre “Vida, Morte e Outros Detalhes”, o último livro de Boris Fausto, que nos deixou em abril deste ano. Na conclusão do texto, associei o modo como ele escrevia à beleza do futebol, esporte pelo qual era fascinado desde a infância. “É um estilo marcado por fluência, limpidez e elegância, à maneira de Sócrates, o craque do Corinthians de Boris Fausto”.
Alguns dias depois, recebi um email do historiador. Entre outros comentários, ele fazia uma observação. “Só um adendo: meu ídolo futebolístico é José Augusto Brandão, gigante cor de ébano, mas não é de sua época.”
Como nunca tinha ouvido falar nesse jogador, fui atrás de informações sobre ele naquele mesmo dia. Mestre Brandão, como era chamado, jogou no Corinthians nas décadas de 1930 e 1940 e foi o primeiro atleta do time alvinegro a disputar uma Copa do Mundo, a de 1938.
Nessa breve pesquisa sobre o atleta, me chamou a atenção a falta de consenso sobre a posição em campo. Existem especialistas que se referem a Brandão como volante, outros o tratam como meia, e alguns falam ainda em centro-médio. Fiquei imaginando se teria sido um craque atípico, sem posição fixa e assim, livre pelos campos, foi capaz de conquistar a admiração de Boris, então um moleque paulistano. Cogitei escrever ao professor para tirar a dúvida, mas acabei deixando o assunto de lado.
Boris se consagrou como historiador em livros que se tornaram referências, como “A Revolução de 1930” (1970) e “Crime e Cotidiano” (1984). Mais tarde, iniciou uma fase como memorialista, que resultou em ao menos uma obra-prima, “O Brilho do Bronze” (2014), dedicado a Cynira Stocco, com quem foi casado por quase cinco décadas.
Em “Vida, Morte e Outros Detalhes”, o livro derradeiro, Boris transitou por diferentes gêneros, inclusive a ficção. Aos 91 anos, sentia-se à vontade para registrar, rememorar, analisar, projetar, ironizar, até delirar. Livre como o Brandão que eu havia imaginado.
Palmirinha
29.jun.1931 – 7.mai.2023
Marcos Nogueira
Jornalista especializado em gastronomia, é autor na Folha do blog e da coluna Cozinha Bruta
Palmirinha tinha tudo para dar errado na TV. Já era oficialmente idosa —tinha 63 anos— quando estreou, em 1994. Era uma vovó fazendo comidas de vovó em uma época em que os chefs profissionais escorraçavam as culinaristas e suas tortas de liquidificador. Saíam as herdeiras de Ofélia Anunciato, entravam os “wannabes” de Jamie Oliver.
Palmirinha começou na TV quando a própria TV começava a perder espaço para a internet ou, como era necessário explicar, a “rede mundial de computadores”. Fez carreira em uma emissora aberta de alcance quase regional, a paulistana Gazeta.
Apesar de tudo isso, Palmirinha triunfou.
Suas receitas anacrônicas desafiavam o novo status quo dos programas culinários. Eles agora falavam inglês, habitavam a TV por assinatura e exibiam homens jovens com pinta de astro de rock.
Palmirinha vingou porque tinha algo que ninguém mais tinha. De tão arquetípica, a velhinha parecia uma personagem de gibi do Mauricio de Sousa. Era uma vovó bem-acabada demais para ser autêntica. Usava óculos de vó, tinha bochechas redondas de vó, cabelos prateados de vó, falava carinhosamente com a câmera como estivesse encarando os netos. E, aparentemente, vivia para cozinhar guloseimas e quitutes.
Eu imaginava que Palmirinha, a despeito de ser mesmo assim, carregasse um pouco na interpretação da avó ideal. Todo o mundo na TV faz assim, por que não ela?
Um dia nos encontramos nos estúdios da rádio Globo, onde eu tinha um quadro com gravações quinzenais.
Não perderei tempo em descrever seus modos, seus gestos, sua aparência física. Direi apenas uma coisa sobre aquela manhã de 2019: Palmirinha fez e levou, para a equipe de radialistas, camafeu de nozes. É um doce de nozes moídas e cozidas com leite condensado até chegar ao ponto de enrolar, segundo a receita que ela ensinou com voz clara e suave.
Só uma avó de verdade saca um prato de camafeu de nozes assim, sem mais nem menos.
Palmirinha, uma avó improvável no circo de celebridades esculpidas por seus agentes, era real. Tão real que não parecia possível. Algo difícil de entender, talvez, mas fácil de sentir. O público, que não entende um monte de coisas, sentia.
Rita Lee
31.dez.1947 – 8.mai.2023
Marisa Monte
Cantora e compositora
Sempre fui apaixonada pela Rita Lee como artista e pessoa. Sou eternamente grata pela maneira como ela me recebeu no começo da minha carreira. Sempre supercarinhosa, atenta e delicada, me deu muita força e incentivo.
Em julho de 2022, na temporada de shows em São Paulo, escolhi uma música de sua autoria para homenageá-la. Convidei Rita e Roberto para assistirem ao show (como sempre), mas infelizmente dessa vez eles não puderam ir. Pedi então para minha equipe fazer uma chamada de vídeo para que Rita e Roberto pudessem assistir a “Doce Vampiro” de casa, com uma multidão emocionada cantando junto comigo o amor por ela.
Infelizmente, Rita não pôde testemunhar o lançamento do registro ao vivo, em novembro de 23, mas fiquei feliz de ter declarado o meu amor em vida .
Em dezembro, nos últimos shows da turnê “Portas”, tive a alegria de receber Roberto de Carvalho, o muso inspirador da canção “Doce Vampiro”. Com a magia de sua guitarra no palco, catalisamos uma explosão de amor, uma celebração inesquecível com uma multidão enlouquecida pela eterna Rita.
Rita é um farol que deu voz a muitas de nós, padroeira da liberdade, mestra, gênia, incomparável. Obrigada. Te amo para sempre!
Astrud Gilberto
29.mar.1940 – 5.jun.2023
Chris Fuscaldo
Pesquisadora musical e biógrafa
Ela tinha apenas 22 anos quando quebrou um galho para o marido, o violonista e cantor João Gilberto, e para o saxofonista estadunidense Stan Getz, emprestando sua interpretação leve e sua pronúncia perfeita para a gravação da versão em inglês de “Garota de Ipanema”, que entraria no álbum “Getz / Gilberto” (1964).
Astrud Gilberto ganhou US$ 120, enquanto João recebeu US$ 23 mil e Getz, aproximadamente US$ 1 milhão. “The Girl From Ipanema” estourou no mundo todo e ganhou o Grammy de Música do Ano. O mundo passou a conhecer Astrud Gilberto, mas o Brasil, não.
A união com João durou de 1959 a 1964, e a separação se deu meses após a gravação da faixa que a colocou nos palcos internacionais. A imprensa tentou culpá-la pelo fim do casamento, mas ela dizia que o problema foi o caso do marido com a então estudante de história da arte Miúcha, que depois viveria um relacionamento abusivo com ele. Certamente João tampouco aguentou o voo repentino de Astrud: cacoete típico em um mercado machista, ele repetia que o sucesso da mulher havia sido “sorte”.
Astrud Gilberto passou a integrar a banda de Stan Getz. Depois, gravou com George Michael, Chet Baker, lançou quase 20 discos solo e, na década de 1970, passou a registrar suas músicas autorais. Mesmo com esse currículo estelar, foi maltratada pela imprensa brasileira. Em 1969, a revista Intervalo publicou uma matéria cujo título era uma declaração sua: “O Brasil não me aceita”. Por isso, sua vida e sua carreira foram construídas nos Estados Unidos.
No Brasil, Astrud Gilberto foi sendo esquecida pelas gerações que se seguiram, ao passo que, fora, influenciou artistas como Billie Eilish. Sua morte aos 83 anos, na Filadélfia, rendeu algumas matérias jornalísticas, mas comoveu bem menos que a do seu ex-marido, em 2019.
José Celso Martinez Corrêa
30.mar.1937 – 6.jul.2023
Claudio Leal
Jornalista e mestre em teoria e história do cinema pela USP
“Coração, coração, toma jeito/ bate mais devagar no meu peito.” Dias antes do incêndio em sua casa, José Celso Martinez Corrêa entoava a canção “Quando a Noite me Entende”, de Vinicius de Moraes e Antonio Maria, e lembrava seu pedido à cantora Mariana de Moraes para gravá-la em “Vinicius de Mariana” (Selo Sesc), um dos grandes discos de 2023. Zé dramatizava os versos com as mãos no peito. O coração ainda batia.
Um mês depois, a cobertura retrátil do Teatro Oficina se abriu, e o corpo de Zé Celso ficou exposto ao céu de São Paulo. Mais uma vez, seu palco se integrava ao mundo, mas a linguagem do corpo ali inscrita era a da morte. Nem os sambas dos atores alteravam o sentimento de que seu velório era um espetáculo realista havia muito superado pelo diretor.
Como Artaud, Zé Celso se despediu do teatro para reencontrar a vida do teatro. Com Eurípides e Oswald de Andrade, sua tragicomediaorgia desenvolveu uma nova bruxaria cênica, a dos poderes avassaladores da arte sobre o mundo.
Em uma conversa, ele me disse que sua futura montagem de “A Queda do Céu”, de Davi Kopenawa, ajudaria o governo Lula a enfrentar a questão indígena na Amazônia. Com um colar de plumas coloridas, falava como chefe de Estado. O projeto do parque do Rio Bixiga era outra resposta aos desafios poéticos do teatro além dos seus limites.
Tantas mortes exorcizadas no Oficina: a destruição do Bixiga, o golpe militar, o exílio, o assassinato de seu irmão Luiz Antonio, o massacre de Canudos, Jair Bolsonaro, o genocídio dos povos indígenas. Zé Celso soprava a cura em seus rituais de Messias antimessiânico, Narciso antinarcisista e libidinoso investido de pureza. O país não saiu curado, mas chegou com ele a estados mais profundos de dor e alegria.
Aracy Balabanian
22.fev.1940 – 7.ago.2023
Zeca Camargo
Jornalista e colunista da Folha, é autor de “A Fantástica Volta ao Mundo”
As clássicas máscaras de teatro, uma que ri e simboliza a comédia, outra que chora representado a tragédia, nunca se encaixaram bem em Aracy Balabanian. Para ela, deveria existir uma imagem que combinasse as duas intenções, simultaneamente.
Se boa parte do Brasil se apaixonou por Aracy com Cassandra, a impagável mãe de Magda (Marisa Orth) no antológico “Sai de Baixo” (1996), sessentões ainda se lembram da Gabriela que encarnou no infantil “Vila Sésamo”, de 1973. Não exatamente um papel dramático, mas uma curiosa consequência de um trabalho que certamente a ajudou a misturar risos e lágrimas em uma personagem.
Também no elenco do programa para crianças estavam Sonia Braga, Laerte Morrone e Armando Bogus, seus companheiros de palco na montagem do musical revolucionário, que desafiava convenções do teatro: “Hair”. Talvez ali tivesse sido o começo de tudo.
A liberdade que Aracy desfrutava de saltitar entre drama e comédia só pode ter brotado desse caldo anárquico-genial dos anos 1960. Fosse nos arroubos de Dona Armênia (“Rainha da Sucata”, 1990) ou nos dilemas de Helena (“Elas por Elas”, primeira versão, de 1982), humor e drama se revezavam na atriz com fluidez.
Da mocinha apaixonada em “Locomotivas” (1977) à mãe de lobisomem no remake de “Saramandaia” (2013), todos nós fomos acumulando amor e admiração por essa atriz que nos fez gargalhar e pensar, tirando dos estereótipos de seus personagens mais que simples caricaturas.
O que Aracy Balabanian nos deixou foram retratos impossivelmente humanos.
José Murilo de Carvalho
8.set.1939 – 13.ago.2023
Christian Lynch
Cientista político, é autor de “Da Monarquia à Oligarquia: História Institucional e Pensamento Político Brasileiro (1822-1930)”
Os autores mais difíceis de descrever são aqueles que, em nossa mocidade, falaram diretamente à nossa sensibilidade. Absorvemos as leituras como folhas em branco. Com o tempo e o acúmulo de outras leituras, esses autores se tornam camadas submersas, pedras que sustentam as demais.
Vi José Murilo de Carvalho pela primeira vez em um seminário no Palácio do Catete. Eu tinha 18 anos. O plebiscito de 1993 prorrogava os debates constituintes. Ao tomar a palavra, o autor de “Os Bestializados” disparou: “Sinto-me constrangido de falar no meio de toda essa pompa republicana”. A provocação provocou sussurros na plateia. Da segunda vez, ainda na faculdade de direito, fui vê-lo na Biblioteca Nacional em um seminário sobre escravidão.
Já no mestrado, pedi enfim uma audiência com ele na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro). No final da graduação, eu devorara “A Construção da Ordem” e “Teatro de Sombras”, livros que haviam organizado meu modo de encarar o entrelaçamento do processo de construção do Estado com o pensamento político. Anotei no diário: “É tímido e de poucos arroubos”.
Na época, fiquei impressionado porque ele parecia não saber mais do que eu sobre o tema da minha dissertação. Não me dera conta de que tudo o que eu sabia tinha lido nos livros dele!
A convivência futura revelou por trás da timidez um homem de convicções, consciente da sua trajetória e do seu valor. Homem de extraordinária disciplina, metódico, dotado de um estilo de escrita limpo e de imaginação literária, sem detrimento da objetividade como cientista político e historiador.
O amigo partiu, mas o mestre ficou. Relendo as provas do meu próximo livro, sobre as fundações do pensamento brasileiro, identifiquei com surpresa a velha camada submersa. A pedra está lá, ajudando a sustentar um calhamaço de 700 páginas. Essa sobrevivência do espírito pelas obras deixadas ao longo da vida é certamente o mais próximo que um intelectual pode conceber como “imortalidade”.
Léa Garcia
11.mar.1933 – 15.ago.2023
Victoria Damasceno
Jornalista da Folha, editora de Saúde e Todas
Léa Garcia marcou o teatro brasileiro. Conquistou os palcos, o cinema e a televisão atuando como atriz, roteirista e diretora. Para além de sua longa e exitosa carreira, foi um dos rostos a lutar por maior representatividade negra nas artes dramáticas.
Conheceu na década de 1950 o Teatro Experimental do Negro, que almejava ser um contraponto à forma como atores negros eram representados nos palcos, frequentemente por meio de caricaturas e estereótipos. No grupo, liderado por Abdias do Nascimento, Léa descobriu-se atriz. Estreou nos palcos em 1952 com a obra “Rapsódia Negra”.
Pouco tempo depois, alcançou o sucesso. Em 1959, disputou o prêmio de melhor interpretação feminina no Festival de Cannes por sua personagem em “Orfeu Negro”, longa de Marcel Camus vencedor do Oscar de filme estrangeiro. Depois disso, atuou em “Ganga Zumba” (1963), primeiro filme dirigido por Cacá Diegues nos moldes do cinema novo.
O êxito nas telonas a levou para a TV. Começou a trabalhar na Globo na década de 1970, quando trabalhou em “Assim na Terra Como no Céu”, de Dias Gomes.
O sucesso estrondoso na TV veio mesmo em 1976, quando ganhou o público ao dar vida à vilã Rosa, da novela “Escrava Isaura”. Após curta passagem pela TV Manchete, participando de obras como “Xica da Silva” (1996), voltou à Globo. Nas décadas de 1990 e 2000, compôs o elenco das novelas “Anjo Mau” (1997), “O Clone” (2001) e “Êta Mundo Bom!” (2016).
Presença carimbada no cinema e na TV, acumulou prêmios. No Festival de Cinema de Gramado, conquistou o troféu Kikito com os filmes “Filhas do Vento” (2004), “Hoje Tem Ragu” (2008) e “Acalanto” (2013).
Léa morreu aos 90 anos, em um momento em que sua carreira seria celebrada. Estava em Gramado para participar do festival de cinema, onde seria homenageada pelo conjunto da sua obra. Receberia o troféu Oscarito, ao lado de Laura Cardoso.
Maria Bernadete Pacífico
1951 – 17.ago.2023
Priscila Camazano
Jornalista da Folha
Ser quilombola é resistência e faz parte da ancestralidade, dizia a ialorixá Maria Bernadete Pacífico, líder da comunidade de Pitanga dos Palmares e coordenadora nacional da Conaq (Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos).
Mãe Bernadete exercia o papel de cuidado direto e pessoal com o quilombo, que abriga cerca de 300 famílias, além de ter sido a porta-voz das demandas políticas da comunidade. Ela dedicou a sua vida à luta quilombola mesmo diante das adversidades.
Em 2017, seu filho Flávio Gabriel Pacífico dos Santos foi assassinado. Conhecido como Binho do Quilombo, ele era um dos líderes quilombolas mais respeitados da Bahia.
A tragédia não impediu Mãe Bernadete de lutar, muito pelo contrário. “Meu filho lutava muito pelos direitos do quilombo. Aí recebeu ameaças dentro do quilombo e veio acontecer isso. Ele derramou sangue, esse sangue quilombola, sangue de vitória, o mesmo sangue que Zumbi dos Palmares derramou pelo povo dele”, disse a ialorixá em um vídeo para o canal do YouTube do Instituto Socioambiental.
Ela teve o mesmo fim trágico: foi assassinada a tiros, ao lado do terreiro de candomblé que comandava em Simões Filho, na região metropolitana de Salvador.
Em falas públicas, mãe Bernadete fazia questão de reverenciar suas ancestrais ao dizer que era filha de Maria Alvina e neta de Maria Faustina.
Ela iniciou-se no candomblé aos 23 anos no terreiro Ilê Axé Kalé Bokum, em Salvador, por meio do babalorixá Severiano Santana Porto (1894-1972).
Além da atuação dentro do quilombo, Bernadete foi secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial de Simões Filho na gestão do então prefeito Eduardo Alencar (PSD).
Walewska
1.out.1979 – 21.set.2023
Marina Izidro
Jornalista e colunista da Folha
Quase 20 anos depois, rever aquelas imagens ainda dá um frio na barriga. Jogos Olímpicos de Atenas (2004), semifinal do vôlei feminino contra a Rússia. O Brasil vencia por 2 sets a 1. Com 24-19, estava a um ponto da final. Em uma virada inacreditável, as russas ganharam por 3 sets a 2.
Durante quatro anos, aquela geração carregou um peso enorme. Transformou desconfiança em motivação. Em Pequim (2008), foram campeãs olímpicas de forma inquestionável, primeiro ouro do Brasil no vôlei feminino. Walewska estava nas duas Olimpíadas e foi parte fundamental desse ponto de virada.
Com o Brasil, também foi bronze nos Jogos de Sidney em 2000, sua primeira Olimpíada aos 19 anos. Foram muitos títulos ao longo de duas décadas na seleção. Foi a capitã do time do Praia Clube campeão da Superliga Feminina em 2018. Encerrou a carreira em 2022 e lançou a biografia “Outras Redes”.
Em quadra, jogava com tanta elegância que fazia ataques e bloqueios poderosos parecerem fáceis. Quando nos deixou, aos 43 anos, o tamanho das homenagens deu apenas uma ideia do quanto significava para o mundo de vôlei e fora dele. “Corajosa”, “disciplinada”, “divertida” e “educada” foram só alguns dos muitos elogios usados para descrevê-la.
Em um país apaixonado por vôlei, Walewska foi protagonista. Aturou pressão e dores exigidos de uma atleta professional. Dedicou-se intensamente ao esporte que amava. Inspirou gerações de jogadoras.
Se o vôlei do Brasil é respeitado e vitorioso mundo afora, também é muito graças a ela.
Danilo Miranda
24.abr.1943 – 29.out.2023
Mika Lins
Atriz, produtora e diretora de teatro
Danilo Miranda foi um grande humanista. E ele pensou não só a cultura no Sesc de São Paulo. Ele pensou a cultura, o lazer, a integração da pessoa idosa, a integração das pessoas diferentes. Ele pensou o Sesc de uma maneira profundamente democrática.
Ele estabeleceu um comportamento, uma maneira de ser e de se situar a cada unidade que foi sendo inaugurada. Cada uma delas provocou e provoca uma revolução no entorno e passa a fazer parte daquela comunidade, fazendo diferença para aquelas pessoas que vivem ali. E isso ocorre em diversas áreas, algumas consideradas “difíceis”, que o Danilo, com sua visão ampla, sempre insistiu em contemplar.
Vou fazer 40 anos de carreira no teatro, o tempo que Danilo dirigiu o Sesc de São Paulo. Ele me recebeu quando eu tinha 29 anos e estava produzindo uma peça sobre Frida Kahlo, que não era uma personagem pop, como é hoje.
O Sesc também foi a casa do Antunes Filho. Não fosse essa casa fixa, talvez Antunes não tivesse produzido os inúmeros espetáculos que produziu. Ao mesmo tempo, Danilo apoiava o Teatro Oficina e recebia pequenos grupos experimentais.
A maior parte da produção teatral paulista talvez não tivesse ocorrido nesses anos se não fosse essa maneira do Sesc de incentivar. E também apoiou artistas de outros estados, que foram recebidos em São Paulo, e não só no teatro.
Danilo deixou um grande legado, especialmente na maneira generosa de ver as pessoas e a cultura inseridas na sua cidade, na sua comunidade, no seu lugar. Isso é a coisa mais bonita que ele fez, o mais importante. É isso que fica: um jeito de pensar o que a gente tem e o que a gente pode fazer.
Lolita Rodrigues
10.mar.1929 – 5.nov.2023
Tony Goes
Colunista do F5
“Vingou como tudo vinga/ No teu chão Piratininga/ A cruz que Anchieta plantou…”
A letra do poeta Guilherme de Almeida para o Hino da Televisão Brasileira, entoada por Lolita Rodrigues na primeiríssima transmissão de TV em solo nacional, perseguiu a artista pelo resto da vida.
Lolita não era a primeira escolha para a tarefa, que caberia a sua amiga Hebe Camargo. Mas Hebe simplesmente não apareceu. Preferiu sair com um namorado a participar daquele momento histórico.
Todas as vezes que as duas se encontravam em algum programa, geralmente acompanhadas por Nair Bello, Hebe provocava Lolita. “Canta aí o Hino.” E Lolita, sempre de bom humor, não se fazia de rogada.
Cantora, atriz, apresentadora e locutora, Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite nasceu em Santos, em 1929, de pais espanhóis, com quem aprendeu a tocar castanholas. Sua carreira começou na década de 1940, no rádio, e atravessou todas as fases da TV brasileira.
O programa que apresentava com o marido Airton Rodrigues, “Almoço com as Estrelas”, ficou no ar de 1956 a 1983, e a consagrou. Também participou da primeira novela diária da nossa TV, “2-5499 Ocupado”, em 1963. Na última fase de sua carreira, integrou o elenco de novelas na Manchete, na Record e na Globo. Seu último papel foi na novela “Viver a Vida”, em 2009.
Desde então, apareceu pouco em público. Lolita se mudou para João Pessoa, para viver com sua única filha, Silvia. Foi lá que morreu em 5 de novembro, aos 94 anos, de pneumonia. A essa altura, já era uma figura incontornável da história da TV brasileira.
Antônio Bispo dos Santos
10.dez.1959 – 3.dez.2023
Itamar Vieira Junior
Geógrafo, escritor e colunista da Folha, é autor de “Torto Arado”
Meu encontro com o pensamento de Nêgo Bispo foi uma “confluência”, como ele mesmo diria. Eu, que passei anos percorrendo os campos do Maranhão e da Bahia, escutando e aprendendo com ribeirinhos, quilombolas, acampados, indígenas, geraizeiros, redescobri em seus registros os saberes que iluminaram minha forma de observar e entender o mundo.
Nascido no Vale do Rio Berlengas, no povoado Papagaio, no Piauí, Bispo concluiu o ensino fundamental com o apoio dos mais velhos de sua comunidade, os que não puderam se alfabetizar graças ao abandono do Estado brasileiro.
Sua escolarização tinha um objetivo prático: diante das investidas dos grileiros e do Estado, que apresentavam títulos de terra nos espaços onde as comunidades tradicionais viviam livres, era necessário que alguém fosse capaz de ler os documentos e se contrapor à violência da desterritorialização.
Mas Bispo foi além. Unindo sua experiência no movimento sindical e a sabedoria de sua gente, propôs uma leitura de mundo que nos ajuda a compreender as engrenagens que continuam a subalternizar parcela expressiva da sociedade: a colonialidade.
Mecanismo que há séculos inaugurou uma maneira predatória de habitar a Terra, violentando a natureza, incluindo os humanos, e que criou a perversa instituição do racismo transformando os semelhantes em outros, para pôr fim, explorar o trabalho e produzir riquezas destinadas a uma pequena classe de privilegiados.
Bispo, por outro lado, também nos indica o caminho da reação. É necessário ter uma postura contracolonial, e um exemplo prático é a própria experiência do quilombo, um espaço para fora do mundo colonial, onde o compartilhar substitui o dinheiro, e o respeito à natureza pode nos levar a uma forma de viver menos predatória. É a esperança que nosso mundo em chamas precisa neste momento.
Carlos Lyra
11.mai.1933 – 16.dez.2023
Gustavo Zeitel
Jornalista da Folha
Um dos artífices da bossa nova, Carlinhos Lyra era sempre chamado assim, no diminutivo, por seus pares.
A “Canção que Morre no Ar”, parceria com Ronaldo Bôscoli, mostrou que o artista tinha mesmo uma relação com a delicadeza. Conhecido como o maior melodista da bossa nova, Lyra enfileirou sucessos, entre 1958 e 1965, como “Você e Eu”, “Primavera” “Coisa Mais Linda” e “Marcha da Quarta-feira de Cinzas”.
Ele acreditava que a bossa nova deveria se voltar ao samba, tendo subido o morro para encontrar a música de Zé Keti e Cartola, no que engendraria uma cisão no movimento. Para ele, a música não poderia se alienar dos problemas sociais do país. Chegou a propor um novo nome para suas canções, “sambalanço”, mas o termo não pegou.
Nos anos 1960, defendeu a cultura popular, desejando afastar a “Influência do Jazz”, título de uma de suas canções, com letra e música próprias. Naquela época, Lyra ajudou a fundar o CPC (Centro Popular de Cultura), que fazia parte da UNE (União Nacional dos Estudantes). Ao mesmo tempo, assumiu uma posição contraditória, se unindo a grandes nomes do jazz.
Em 1965, gravou o disco “The Sound of Ipanema”, com o saxofonista americano Paul Winter e, no mesmo ano, viajou pelos Estados Unidos com um dos principais jazzistas que marcaram a bossa nova, o também saxofonista Stan Getz.
Sua obra perderia fôlego nas décadas seguintes, mas foi eternizada no disco clássico “Chega de Saudade”, de João Gilberto, lançado em 1959, que tinha três canções de sua autoria: “Maria Ninguém”, “Lobo Bobo”, e “Saudade Fez um Samba”.